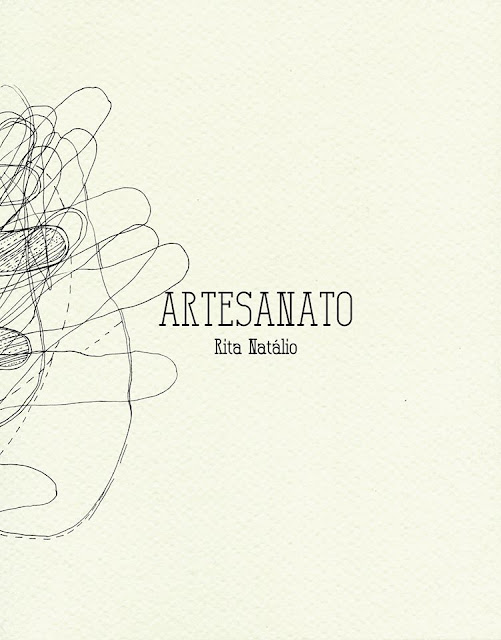Em 1979, numa conversa com Jean-Luc Godard e o director da
Cinemateca Suíça Freddy Buache, Jean Mitry falava da série ainda por
realizar Histoire(s) du cinéma como etapa desejável para a
abertura da possibilidade de pôr o cinema a ensinar-se a si próprio.
Realizador, programador e historiador pareciam concordar que a grande
história do cinema ainda estava por fazer, uma que se escrevesse nas
próprias imagens ou que fizesse das imagens inscrições de um olhar.
Contra as impossibilidades burocrático-legais em torno dos direitos
autorais, propunha-se citar um filme com a mesma naturalidade com que se
cita um texto. Para quê resolver o problema de uma historiografia do
cinema só com palavras, sem imagens e sem o movimento que o
cinematógrafo lhes confere? Godard preocupava-se com a influência
desregulada dos mass media na sociedade e pugnava por uma nova literacia que educasse o olhar a ler e descodificar a mensagem audiovisual.
Passados mais de 40 anos, o ensaio audiovisual aparece como
estágio fundamental de uma denominada «audiovisualcy», aproveitando
as facilidades do digital para a concretização do sonho
daquele realizador, programador e historiador no final dos anos 70: pôr
o cinema a ensinar cinema. O ensaio audiovisual aparece sob
diversas formas, reunidas por professores, críticos e amadores do
cinema. Justapõem-se gestos, cores, sonoridades, ambiências.
Coleccionam-se pedaços de filmes nem sempre respeitando – ou mesmo
propositadamente rompendo com – a linearidade cronológica e canónica dos
manuais da história do cinema. Descobrem-se e sistematizam-se
vizinhanças até então desconhecidas entre e dentro de universos
autorais. Apesar da evolução significativa que se regista desde aquela
conversa no ano de 1979, e parafraseando Benjamin, a pura crítica de
citações ainda está por fazer. Por outro lado, falta ordenar e organizar
– quer-se ordenar e organizar? – o caos de ensaios audiovisuais que se
amontoa nos confins da Internet.
O novo número da Interact com o título Cinema, Crítica Digital e Ensaio Audiovisual propõe uma ordenação crítica e conceptual destas formas críticas emergentes. Este Call for Papers procura então propostas que respondam a todos estes temas, a saber:
1. Cinema digital
2. Crítica e/ou historiografia do cinema na era digital
3. Comunidades cinéfilas virtuais
4. Ensaios audiovisuais
5. Manipulação/edição na era digital
Para a submissão da proposta, o candidato tem de apresentar o
título do ensaio com a indicação da secção a que pretende submeter,
um abstract com até 2000 caracteres (com espaços) e a sua
filiação universitária.
Lembramos que na Interact as peças devem ser mais curtas,
mais ensaísticas, se não mesmo mais experimentais, e há todo o interesse
em que seja dado bom uso às capacidades da própria World Wide Web,
sendo de incentivar a existência de links, de imagens, de som,
de interactividade. Se necessário, e para uma adequada adaptação
à actual plataforma de publicação, poderá haver um diálogo entre autor
e redacção sempre que a proposta o exija.
O envio das propostas deverá ser feito até 15 de Janeiro de 2015, para o e-mail dos coordenadores do número: Carlos Natálio (carlosnatalio1@gmail.com) e Luís Mendonça (luis.mendonca_@hotmail.com).
Se aceites para publicação, as respectivas peças em versão publicável e
definitiva deverão ser entregues entre os meses de Janeiro e Abril.